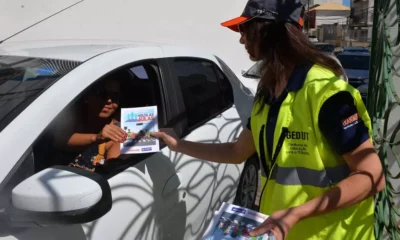Ficção, Educação e Trânsito
Educação para o trânsito não é só no “maio amarelo”


Professor Leonardo Campos
Essa é uma reflexão para todos, mas em especial, para nós, professores. Pode ser da Educação Básica ou do Ensino Superior. Imaginemos a sala de aula durante a nossa semana. Temos um determinado tempo para cumprir a aula expositiva, sanar dúvidas dos estudantes, fazer revisões de conteúdo, aplicar metodologias ativas com jogos e outras dinâmicas, avaliar atividades e aplicar verificações de aprendizagem. Um desafio, não é mesmo? Muita coisa para dar conta, dentro de apenas um feixe de carga horária destinada ao cumprimento de todas as etapas necessárias para atender aos cronogramas gerados pelas instituições. Dentro desse panorama, trazer elementos tangenciais e temas de atualidades é algo que nos pede uma dedicação maior, muitas vezes em concorrência com outras metas básicas que precisam ser atingidas para que na sala de aula, sejamos também profissionais que exercem as suas respectivas cidadanias.
O que seria isso? Simples. Além de ministrar as nossas aulas, muitos precisam abastecer a casa de alimentos para si e para outros, cuidar dos filhos, observar as suas atividades, descansar, manter-se atualizado com os telejornais, filmes, séries, livros, além de aderir às atividades de lazer e entretenimento para permitir que sejamos professores versáteis, antenados com o corpo estudantil cada vez mais estruturado pelas tecnologias que nos domina. Dentro desse painel de missões, ainda precisamos observar o que acontece nas redes sociais, postar conteúdos voltados ao nosso segmento, afinal, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Dormir também se faz muito necessário, pois devidamente descansados, conseguimos dar conta das missões da sala de aula, um espaço de acontecimentos, onde coisas programadas podem adentrar numa curva inesperada e a informação que se transforma em conhecimento nunca é estática. Por isso, além de professores, precisamos exercer a tal da sabedoria.

Para reflexão: tópicos gerais integrantes da BNCC
O que destaco, por sabedoria, deve ser pensado pelo professor como um caminho que não me estabeleça uma rotina de estresse e que possa ganhar um planejamento executável. Não adiante criar um monte de coisas e não conseguir dar conta, tampouco os seus alunos. Assim, ficamos todos frustrados, enganamos a nós mesmos e aos demais, cumprimos uma determinada questão burocrática e seguimos com a sensação de que entregamos o que foi pedido aos nossos gestores, mas no fundo, muitas vezes estabelecemos uma proposta de aprendizagem que não foi significativa. E essa sensação, caro leitor, confesso que é ruim e todos nós, em algum momento, já passamos por ela. Há casos que aprendemos para a próxima e noutros, continuamos no mesmo ciclo vicioso. Educar para o trânsito, tenho observado cada vez mais, precisa ganhar o nosso olhar e ser conteúdo rotineiro em nossas práticas.
Essa é uma preocupação semelhante aos conteúdos acerca da perspectiva afro-brasileira e indígena. Você já se perguntou por qual motivo muitas escolas discutem racismo e cultura indígena apenas no dia 19 de abril, 13 de maio e na Semana da Consciência Negra, em novembro? O mesmo ocorre com as questões sobre trânsito. Refletir sobre a situação racial, o feminismo negro, o genocídio da população indígena e temas tangenciais é algo a se pensar ao longo de todo ano letivo, não apenas em datas comemorativas de conscientização. Quando debato a perspectiva dos negros ou índios, por exemplo, devo sair dos vícios de refletir suas condições com o olhar colonizador de A Escrava Isaura, de Bernardo de Guimarães, Os Escravos, de Castro Alves, ou então, a trilogia indianista Iracema, Ubirajara e O Guarani, de José de Alencar, conteúdos que são referenciais em nossos materiais didáticos básicos.
Não estou dizendo que estes autores devem ser esquecidos. Ao contrário, são leituras importantes para compreensão das questões históricas e estilísticas de uma época. Mas não são, no entanto, as únicas opções. Precisamos ir além. Até mesmo para o exercício de nossa formação contínua, com aulas que não sejam viciadas ou alicerçadas em materiais que nós já nos cansamos de abordar e que pedem oxigenação emergencial. Com isso, exponho a reflexão que precisa permear as nossas práticas e nos tirar do “perigo de um ensino e aprendizagem únicos”: pensar os temas tangenciais costurados ao tecido urdido em nossas práticas cotidianas de interação em sala de aula. Como será exposto mais adiante, educação para o trânsito, comparado anteriormente ao ensino de culturas afro-brasileiras e indígenas, não deve ser algo apenas dos eventos oficiais, mas práticas costumeiras de nossas atividades.
Ademais, educação para o trânsito não deve ser apenas durante o maio amarelo
O maio amarelo é um evento anual importante. Podemos intensificar as propostas sobre educação para o trânsito ao longo de todo o mês dedicado midiaticamente aos debates sobre essa abordagem tangencial em nossas diretrizes educacionais, no entanto, é importante que nós professores façamos uma reflexão sobre tornar esse tema algo corrente, uma perspectiva constante em nossa dinâmica de sala de aula. Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, proposta que teve como direcionamento, refletir os impactos dos sinistros de trânsito na vida das pessoas, na economia planetária e em diversas outras frentes que engendram os mecanismos que compõem a nossa sociedade. O mês se tornou uma referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza em torno desse assunto. A cor escolhida, o amarelo, simboliza a atenção, algo aplicado nas placas de trânsito e no semáforo que guia condutores e pedestres diariamente em mobilidade.

Infográficos podem ser uma opção assertiva para qualquer aula. Em Língua e Literatura, funciona para interpretações e ilações com obras literárias.
A década mencionada, definida numa resolução de março de 2010, teve como período de análise 2011 a 2020. O documento elaborado com base em dados da OMS contabilizou, apenas em 2009, o alarmante número em torno de 1,3 milhão de mortes por sinistros de trânsito em 178 países. 50 milhões de pessoas sobreviveram, muitas com sequelas físicas, outros com traumas psicológicos e perdas para toda a vida. Na época, observou-se que 3 mil pessoas morriam por dia devido aos incidentes que podem e devem ser evitados, casos as medidas de proteção, tais como evitar consumo de álcool na direção, usar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade, dentre outros, fossem normas respeitadas. É uma preocupação que vai além dos debates filosóficos sobre ética, pois impacta também na economia geral, afinal, o PIB de uma nação é consideravelmente manipulado por causa da quantidade de vítimas atendidas no SUS, analisadas pelos seguros etc. Por isso, planos regionais, nacionais e mundiais foram estabelecidos. E a educação, neste caso, funciona como um importantíssimo alicerce.
As reflexões em torno do maio amarelo dialogam com ações coordenadas entre o Poder Público e a sociedade civil, tendo como pauta direcionadora, a segurança viária, palavra-chave que precisa sensibilizar a população de maneira geral e assertiva. Associações, empresas, entidades não-governamentais, enfim, todos os responsáveis por urdir o tecido que compõe a nossa sociedade, devem ser simpáticos ao movimento e colocá-lo em prática cotidianamente, fazendo do maio amarelo um mês de conscientização para ganhar desdobramento o ano todo. Os temas transversais designados pela BNCC, por exemplo, elencam ética, cidadania, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e social, mercado de trabalho, consumo e temas considerados locais. São propostas para a construção de valores dentro de uma sociedade organizada, presentes num documento que elucida algo que também precisamos nos atentar: nenhuma área isolada pode ser considerada suficiente para a complexidade desses temas.
Com a educação para o trânsito, seria diferente?
Sobre temas tangenciais e a reflexão em sala de aula
A nossa formação implica muito nas estratégias que utilizamos para dar aula. Por isso, sem fórmulas mágicas, precisamos descolonizar o nosso olhar para as coisas. Não temos mais o aluno passivo, aquele que é receptáculo das informações que transmitimos em aulas inteiras voltadas ao processo de cumprimento do “conteúdo”. Metodologias ativas, vazias de reflexão sobre a sua aplicação, também não adiantam, pois corremos o risco de criar algo que para nosso olhar já amadurecido, pode ser um deleite de reflexão, mas para os estudantes, pode ser uma tarefa cumprida apenas para obtenção da nota. Por isso, temos que exercer a sabedoria exposta no primeiro tópico e apresentar propostas mais desafiadoras, no entanto, dentro de nossas possibilidades temporais e também com base em uma construção processual, dando conta de analisar o cenário de maneira mais abrangente, por todos os lados, em constante testagem, para que assim, confirmemos as nossas hipóteses, ou então, refutemos o que foi pensado para logo adiante, observar outras maneiras de exercer o nosso trabalho com os temas tangenciais.
A reflexão que você acompanha, caro leitor, é a abertura de um conjunto de textos maiores. Digamos que aqui, tenhamos estabelecido um ponto de partida, algo introdutório. Oferto um conjunto de iniciativas processuais na iniciativa sobre educação para o trânsito, debatido dentro do Ensino Médio e do Ensino Superior. Isso, no entanto, não significa que você, na posição de docente, esteja impossibilitado de aplicar no Ensino Fundamental ou até mesmo na conscientização de seus filhos, irmãos e outros familiares, afinal, educar para o trânsito é algo que precisa também acontecer no lar, em nossas redes sociais, no status do WhatsApp, nos grupos que participamos e nos conselhos que fornecemos ao motorista do Uber, por exemplo, quando este faz uma manobra perigosa ou manipula o celular com uma mão enquanto guia o automóvel com a outra. Educar, para o trânsito, como já dito, deve ser algo cotidiano. Assim exercemos a conscientização tão necessária e tornamos o maio amarelo um projeto anual.

Importante para aplicarmos em nosso planejamento
Vou utilizar a minha experiência como professor de Língua Portuguesa e Literatura para fornecer um mapeamento, mas em qualquer área do conhecimento, os conteúdos de educação para o trânsito são aplicáveis, certo? Conforme traz a BNCC, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas públicas e particulares, dentro de suas esferas de autonomia e competência, promover a incorporação de temas sobre preocupações contemporâneas que afetam diretamente a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente, de forma integradora e transversal. Antes de dar início ao projeto de educação para o trânsito e reconhecer a sua importância em nossas dinâmicas de ensino e aprendizagem, leia um pouco sobre o movimento comentado aqui, o maio amarelo, além de subsidiar dos tópicos tratados na Lei nº 9503/1997, conteúdo que versa sobre a aplicação desta modalidade educacional em todas as instâncias escolares dos cidadãos que desde jovens, precisam refletir para se tornarem os condutores e pedestres conscientes do futuro.
Se possível, confira também a Portaria 147 do DENATRAN, documento que pensa as Diretrizes Nacionais da Educação Para o Trânsito. E como sugestão, esteja munido dos direcionamentos da BNCC sobre a sua área, pesquisa que também pode contemplar algo importante para todo professor que deseja se atualizar e manter os seus aprendizes conectados com o mundo: a pesquisa agendada ou cotidiana, isto é, aquela “olhada” nos mecanismos virtuais de busca para conhecer propostas de outros colegas ao redor da nossa região e de todo país, investigação que pode lhe ajudar a enumerar possíveis conteúdos para a reflexão sobre o tema questão em sua sala de aula. Foi o que fiz, quando despertei para o assunto, há algum tempo. Como professor com mais experiência em Literatura, busquei meios de aplicar a educação para o trânsito processualmente. A minha pergunta norteadora foi a seguinte: como trabalhar o assunto além do maio amarelo e da semana do trânsito que ocorre no mês de setembro?

Filmes para discussões sobre língua, narrativa, geografia, história, língua estrangeira, relacionamentos humanos, dentre outros assuntos, conectados com a educação para o trânsito, ideais para aulas de Ensino Fundamental em seus anos finais, Ensino Médio e Superior.
As respostas chegaram por meio de observação básicas e, acreditem, rápidas. No Ensino Médio, iniciamos os debates sobre Quinhentismo, Barroco, Arcadismo no primeiro ano, partimos para o Romantismo, Realismo, Parnasianismo e Simbolismo no segundo ano, e fechamos o conteúdo básico estabelecido no terceiro ano, com os estudos sobre Pré-Modernismo, as três fases do Modernismo, o Concretismo, a Literatura Africana e o que chamamos de Literatura Brasileira Contemporânea, segmento vasto e com diversas possibilidades educacionais. Dentro e fora desse cronograma, podemos discutir educação para o trânsito por meio de obras literárias mais recentes, mas com alguma conexão interdisciplinar com a abordagem de época, ou então, estabelecer momentos de Literatura e Atualidades entre um panorama histórico e outro. O que não precisamos e não devemos é, em hipótese alguma, ensinar com amarras burocráticas.
Para quem ensina literatura, debater contos e crônicas pode ser um ótimo caminho para reflexão. Em nossa produção, por exemplo, temos Gaetaninho e A Sociedade, contos de Alcântara Machado, partes integrantes da coletânea Brás, Bexiga e Barra Funda, histórias curtas e possíveis de serem lidas e debatidas dentro da sala de aula. No primeiro, temos a trajetória de um menino que sonha em andar de carro lá nos primeiros anos do século XX, era de surgimento das tecnologias oriundas das revoluções industriais. Irônico, a sua trajetória termina com um atropelamento que reflete questões importantes para associação com a contemporaneidade. Gaetaninho realizou o sonho, mas o único passeio de carro possível foi depois de sua morte, num carro que carregou o seu caixão. Em A Sociedade, duas famílias praticamente negociam o casamento de seus filhos, ambas com interesses econômicos muito particulares, com um dos personagens utilizando o seu automóvel como recurso para delinear o seu status social.
Essa reflexão ganha maiores dimensões quando numa aula de atualidades, podemos discutir algo que é parte da cultura dos nossos jovens. Os filmes de ação. O cinema e as séries em serviços de streaming como Netflix são recursos que provém o lazer de muitas famílias. Tramas como Velozes e Furiosos, Velocidade Máxima e narrativas com super-heróis apresentam constantemente algo que na Psicologia do Trânsito e nos dados estatísticos, é uma realidade assustadora: a velocidade como reafirmação da masculinidade. Com os carros que ganham como presente por uma etapa vencida ou na direção com os automóveis de seus pais e/ou responsáveis, os jovens correm riscos cotidianos ao desrespeitar os limites de velocidade para impressionar amigos ou um par romântico que contempla essa postura como um ato corajoso de afirmação de identidade. E, com isso, temos cada vez mais sinistros de trânsito evitáveis.

Três obras para trabalhar educação para o trânsito no Ensino Fundamental, Médio e Superior
No conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, o personagem morto, ao estilo Memórias Póstumas de Brás Cubas, narra a sua trajetória e fala com o leitor, contando da sua condição social e a forma como os jovens pensaram em tratar o seu corpo, após atropelá-lo, alcoolizados por conta de uma festa bastante animada e um retorno indevido para casa. Além de debater o conteúdo no terceiro ano, pois a literatura brasileira do século XX é algo previsto para o cronograma desse período, o professor pode, lá no segundo ano, fazer uma leitura comparada do conto com a mencionada obra de Machado de Assis, permitindo que os estudantes façam uma análise associativa e perceba, além das questões de estilo literário, pontuações sobre educação para o trânsito, embutidas de maneira processual e retomadas, por exemplo, numa aula de Língua Portuguesa, focada em Interpretação textual, tendo como direcionamento um texto jornalístico que aborde as situações exploradas no conto proposto.
Para conseguir fazer essas associações, cabe ao professor primeiro mapear o seu feixe de possibilidades. Se questionar, observando primeiro: quais contos, romances, filmes e documentários refletem as principais questões sobre trânsito? Depois de enumerar o que tem disponível e é possível de se debater em sala de aula, resgatar esse conteúdo para leitura, interpretação e depois planejamento de sequências didáticas para aplicação em sala de aula. Se jogar no YouTube, por exemplo, dicas de documentário, encontrará o ótimo e dinâmico Luto em Luta, produção que traz vários depoimentos de autoridades da ABRAMET, DETRAN e outros órgãos que têm em seus respectivos agendamentos, a educação para o trânsito. A leitura e atividade com o conto na aula de literatura e a interpretação do documentário com apoio de charges, tirinhas, memes e outros materiais de mídia podem enriquecer não apenas a aula de Língua Portuguesa, mas fornecer uma assertiva proposta de redação, concorda?
Ao leitor, deixo aqui essas reflexões iniciais. Nas próximas semanas, apresentarei sugestões de educação para o trânsito em outros componentes que forma a grade curricular do Ensino Médio, tendo como foco a BNCC, combinado? Enquanto isso, reflita sobre a importância do assunto.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
Ficção, Educação e Trânsito
Trânsito, Educação e Xadrez
Uma publicação interessante sobre o uso desta modalidade lúdica para o âmbito do ensino e da aprendizagem


Leonardo Campos
O xadrez é um jogo de tabuleiro que pede um jogador muito atento, inteligente e sagaz para lidar com as adversidades de uma partida. O trânsito, da mesma maneira, transforma o condutor em jogador e o coloca numa situação de atenção necessário, cuidado constante diante dos possíveis obstáculos, bem como uma postura defensiva para saber lidar com o “outro” que divide o mesmo espaço neste tabuleiro da vida. Foi com esta ideia que Eurípedes Kuhl, experiente no Serviço Militar, bem como em Administração e Segurança do Trabalho, desenvolveu Trânsito, Educação e Xadrez, uma publicação interessante sobre o uso desta modalidade lúdica para o âmbito do ensino e da aprendizagem, conteúdo que parece muito complexo em seu preâmbulo, mas que vai delineando as suas intencionalidades ao passo que cada página de leitura é avançada. Se você, caro leitor, é alguém como eu, um leigo total das estratégias do xadrez, recomendo que assista ao máximo de tutoriais que puder, leia manuais, consulte o passo a passo deste jogo de tabuleiro para que a sua dinâmica no âmbito educacional seja a mais produtiva possível, combinado?

Em sua abertura, o autor comenta brevemente o estabelecimento do Código de Trânsito Brasileiro, dando destaque aos avanços que surgiram com os desdobramentos da aplicação desta legislação em 1997. Ele reflete, por sua vez, que as nossas ruas e rodovias estão longe de atingirem os ideais previstos pelo CTB, haja vista as suas respectivas estruturas problemáticas. Além disso, nos permite refletir que não apenas a questão geográfica da mobilidade, mas o fator humano, algo que mesmo diante das punições previstas nos artigos legais, ainda é um ideal que distante e precisa, constantemente, ser alcançando por meio de campanhas e demais ações educativas. É quando entra o xadrez. A sua apresentação da famosa partida de 1851, intitulada A Imortal, é demasiadamente vaga, não nos deixando entender o propósito de sua inserção no material. É uma passagem superficial, desnecessária e deslocada. Mas não atrapalha o andamento educativo do livro.
Logo mais, há uma explicação básica para os elementos que compõem o tabuleiro, bem como um breve percurso histórico dos significados destas posições. Considerado como uma ciência autêntica, envolto em olimpíadas com jogadores que levam as suas regras com seriedade, o xadrez possui um tabuleiro com espaços em preto e branco. São as vias de condução das peças. Neste jogo, temos o Rei, a Torre, o Bispo, a Dama, o Peão e o Cavalo, todos integrantes desta travessia que mescla atenção, sagacidade e inteligência, na busca de um dos jogadores em apanhar as peças do adversário e dar o xeque-mate. Cada movimentação do jogador envolvido, em associação com a dinâmica do trânsito, é preciso atuar com atitudes seguras, eficientes, tendo em vista evitar colisões, incorreções que não permitem erro, levando-o ao trágico, dentre outras iniciativas formidáveis quando associadas com nossa conduta na mobilidade.

Diante do exposto, como já dito, no xadrez, o grande lance de jogador é a atenção. Se você se perde, adentra numa zona de perigo, como o trânsito. Pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores precisam manter-se atentos, sem o uso indevido do celular, distantes dos efeitos do álcool e conscientes dos limites velocidades das vias que atravessam. No trânsito, temos que colocar em prática a humanidade que nos define e atuar de maneira educada, para que as coisas fluam adequadamente para todos. Adequado, aqui, designa segurança. Cada seção há uma frase de epígrafe, logo no começo da representação do quadro, como nos exemplos destacados nestas ilustrações. Didático, o autor relaciona posturas comuns do trânsito com a ação inconsequente ou devidamente cidadã de cada jogador diante do tabuleiro. Há o rude, o afobado, o confuso, o hábil, o atrevido, em linhas gerais, as cabíveis alegorias para o que encontramos cotidianamente no cenário da mobilidade, seja como pedestre a aguardar um ônibus, passageiro em deslocamento no interior do Uber, ciclista ou motociclista numa travessia pelas pistas que cortam as nossas cidades, em suma, qualquer situação de trânsito do nosso dia.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
Ficção, Educação e Trânsito
Rota de Colisão
Ao longo de suas 93 páginas, Rota de Colisão: A Cidade, O Trânsito e Você debate segurança e cidadania no trânsito


Leonardo Campos
Os impactos dos sinistros de trânsito, fatais ou com vítimas acometidas por sequelas, tragédias que antes eram chamadas de acidentes, são apresentados por meio de um texto coeso, coerente e dinâmico em Rota de Colisão: A Cidade, O Trânsito e Você, publicação de 2007, assinada pelos especialistas Eduardo Biavati e Heloisa Martins. O termo acidente, como nós sabemos, expressa algo imprevisto, furtivo, diferente do que contemplamos com horror em nosso cenário de mobilidade cotidiano, espaço onde situações evitáveis poderiam não acontecer e ceifar tantas vidas ativas, numa celeuma que causa desordem não apenas diante dos familiares e amigos enlutados, mas também ocasiona graves crises econômicas para uma nação que deixa de realizar amplos investimentos em outras áreas para atender aos vitimados com sequelas, dependentes de aposentadorias, bem como as cifras que os sinistros custam para o SUS. No livro, a cidade não deixa de ter a sua culpa. Zonas com infraestrutura inacabada, projetos problemáticos, assim como o comportamento humano no trânsito, carente de educação por parte de muitos condutores, pedestres e ciclistas. Focado na importância do exercício da cidadania, o conteúdo em questão é fluente, de poucas páginas e funciona como material para educar a população em geral, além de ser subsídio básico para projetos de educação para o trânsito.
Ao longo de suas 93 páginas, Rota de Colisão: A Cidade, O Trânsito e Você debate segurança e cidadania no trânsito em seus seis capítulos curtos, todos ilustrados e com desenvolvimento de ideias pedagogicamente dinâmicas para o entendimento de todos os públicos. Trânsito e Transitar, o primeiro capítulo, versa sobre como o movimento das ruas depende da atividade humana que acontece ao redor dos espaços de circulação, apresentando questões sobre o desenho das cidades e a solução de alargamento das pistas como uma opção que não resolve os problemas no cenário da mobilidade urbana contemporânea, algo que envolve demolição de prédios, casas, indenizações, dentre outras circunstâncias. Construir novas avenidas em zonas já estabelecidas não é algo tão tranquilo quanto se imagina. Os autores refletem a quantidade de carros na rua, a questão do meio ambiente degradado pelos combustíveis e o desinteresse da população pelos modais no deslocamento, não apenas por culpa dos usuários, mas pelas condições precárias de transporte em muitas zonas urbanas brasileiras.
No desenvolvimento de As Regras: De Quem é A Vez, o texto relaciona os espaços urbanos com regras de um jogo, onde precisamos seguis as orientações adequadamente para vencer as etapas e conquistar a linha de chegada. São alegorias importantes para transformação do que está previsto por lei em explicações pedagógicas para o grande público. Obedecer às regras é algo chato? Sim, mas estamos num espaço coletivo, por isso, temos que levar em consideração os nossos interesses, mas as vontades alheias, afinal, não somos donos da rua. Existem centenas de regras no Código de Trânsito Brasileiro, a maioria, desconhecida pela população, sendo uma delas o destaque do capítulo: a hierarquia de responsabilidades ao trafegar, espaço que tem o pedestre como elemento mais frágil diante de ciclistas, carros, caminhões e ônibus.


Em Os Acidentes: Onde Mora o Perigo, terceiro capítulo da jornada de Rota de Colisão: A Cidade, O Trânsito e Você, encontramos algumas pontuações sobre os chamados acidentes, agora sinistros de trânsito, conforme a atual legislação, eventos que não devem ser pensados como obras do destino, mas acontecimentos que podem ser evitados se todos que circulam pelas vias da cidade obedecessem ao que está disposto no CTB e também respeitasse o lugar de passagem de cada um. O grande índice de tragédias nas vias não para de crescer pelo fato de nós, agentes do processo de mobilidade cotidiana, não respeitamos adequadamente o outro, colocando-se muitas vezes como irresponsáveis. Uso de álcool, mesmo na quantidade mínima, não por o cinto de segurança e exceder a velocidade: três grandes problemas contemporâneos, somados ao mais recente de todos, o uso de celular na direção, situação que está, atualmente, entre as três mais perigosas e registradas nos casos de colisão e atropelamento no mundo.
No elucidativo Atropelamento e Lesão Cerebral, os autores falam sobre como a mídia menciona as tragédias, mas não dá o mesmo enfoque para as vítimas não fatais, figuras da tessitura cotidiana que custam muito para os cofres públicos, sejam por seus tratamentos ou processos de aposentadoria. No Brasil, a maioria dos sinistros ocorre entre sexta-feira (noite) e domingo (final da tarde). Por que será? No mundo de hoje, diríamos que é porque “sextou”. E é exatamente por isso, o que nos abre as portas para conteúdo de Álcool, óbvio e quase senso comum, mas parece que ainda não nos alertamos assertivamente para esta substância que é, ao lado do excesso de velocidade, um dos elementos responsáveis pelas tragédias no trânsito, algumas irreversíveis para os envolvidos. No desfecho, temos Colisões e Lesão Medular, uma exposição dos problemas causados em determinadas situações de sinistro. Os autores explicam o que ocorre com o nosso corpo por meio de exemplos que reforçam a pequenez dos humanos diante dos impactos da dinâmica física de uma colisão ou atropelamento. É tudo muito assustador, mas ainda assim, nos pegamos sem seguir as orientações para evitar tudo aquilo que é mostrado nos casos descritos pelo livro. Ademais, em seu encerramento, os autores pedem reflexão e postura dos leitores, fornecendo ótimas sugestões de leitura complementar.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
Ficção, Educação e Trânsito
Sem data, sem assinatura
O filme uma é história de luto considerada como uma das mais atordoantes do cinema contemporâneo


Leonardo Campos
Pode ser diferente em cada região do planeta, mas a constante taxa de sinistros de trânsito envolvendo vítimas fatais é uma realidade contemporânea que infelizmente devasta não apenas países economicamente desfavorecidos, mas também os lugares considerados de “primeiro mundo”. O cinema, sabiamente, já trabalhou diversas vezes com atropelamentos, colisões, capotamentos, bem como condutores alcoolizados ou sem cinto de segurança, para o estabelecimento da catarse. Sem Data, Sem Assinatura, um apurado exemplar do cinema iraniano recente, é uma destas narrativas arrebatadoras sobre os desdobramentos de uma situação evitável na vida daqueles que perderam alguém e na trajetória daqueles sufocados pela angústia e culpa, isto é, indivíduos que precisam lidar com as consequências de seus erros, numa punição que pode ser até ser mais severa que a aplicação de algo previsto na legislação, afinal, ser preso ou responder processo pode ser tão doloroso quanto acordar e dormir todos os dias pensando na vida do outro que você destruiu após agir de maneira indevida no trânsito.
Lançado em 2017, a produção dirigida por Vahid Jalilvand, também responsável pelo roteiro, escrito ao lado de Ali Zarnegar, é uma lição de drama assertivo. Em seus 104 minutos, acompanhamos a saga de um homem devidamente equilibrado em sociedade, aquele tipo de personagem que goza dos privilégios de sua profissão, numa existência confortável e tranquila, tendo os habituais altos e baixos que qualquer ser humano enfrenta cotidianamente, mas que não precisa lidar com dificuldades mais extremas para garantir a sua sobrevivência. Ele é o catalisador das reflexões sobre ética em Sem Data, Sem Assinatura, uma história de luto considerada como uma das mais atordoantes do cinema contemporâneo. Na trama, seguimos os passos de Kaveh (Amir Aghave), um médico que colide com uma moto numa situação inesperada durante uma de duas travessias diárias. Ele não comete aquilo que geralmente contemplamos horrorizados nos telejornais e em muitos filmes: a omissão de socorro.

O médico percebe que o filho do condutor, machucado no pescoço, sofreu as consequências da forte colisão, mas não teve a vida ceifada. Tranquilo, ele propõe ajuda e o encaminha para o atendimento hospitalar. O susto, no entanto, surge no dia seguinte, quando chega ao ponto de trabalho para mais um plantão. Descobre que o menino morto é a vítima do acidente. Na autopsia, a pessoa responsável pelo perito identificou um problema de intoxicação alimentar, mas Kaveh acredita que o motivo real tenha sido a pancada durante o sinistro de trânsito. E agora? Como lidar com essa dúvida corrosiva, acompanhada de um sentimento de culpa devastador? É assim que ele não fica quieto e resolve investigar as causas da morte do garoto. Será mesmo que ele deve se sentir responsável pelo falecimento? Aqui, o espectador é colocado diante de uma trama instigante sobre atos irrisórios que mudam para sempre as nossas vidas, escolhas do presente que determinam tacitamente o nosso futuro.
Nada é tão fácil quanto o esperado, talvez mais mastigado e melodramático se fosse uma narrativa de estrutura estadunidense. Sem Data, Sem Assinatura trabalha em torno de clichês, mas propõe uma abordagem mais complexa de sua proposta. Com muitas cenas no interior de carros, satisfatoriamente concebidas pela ótima direção de fotografia, o filme reflete a realidade iraniana da falta de liberdade de expressão, algo curiosamente destacado na divulgação da produção em sua época de lançamento, escolha narrativa que também dialoga com o que está designado como tema do filme, isto é, a travessia de personagens pela vida, os embates entre as pessoas, em colisões cotidianas repletas de tensões, a maioria psicológicas, mas também físicas, como a tragédia que envolve o médico Kaveh e Moosa (Navid Mohammadzadeh), pai do garoto que perde a vida, talvez pelo sinistro ou quem sabe, pela intoxicação alimentar.