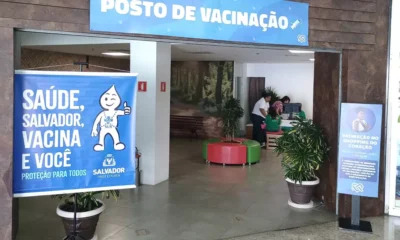Cibercultura
Cibercultura e sociedade: era da conexão
A humanidade percorreu por caminhos, os quais destinaram-se ao rumo da informação
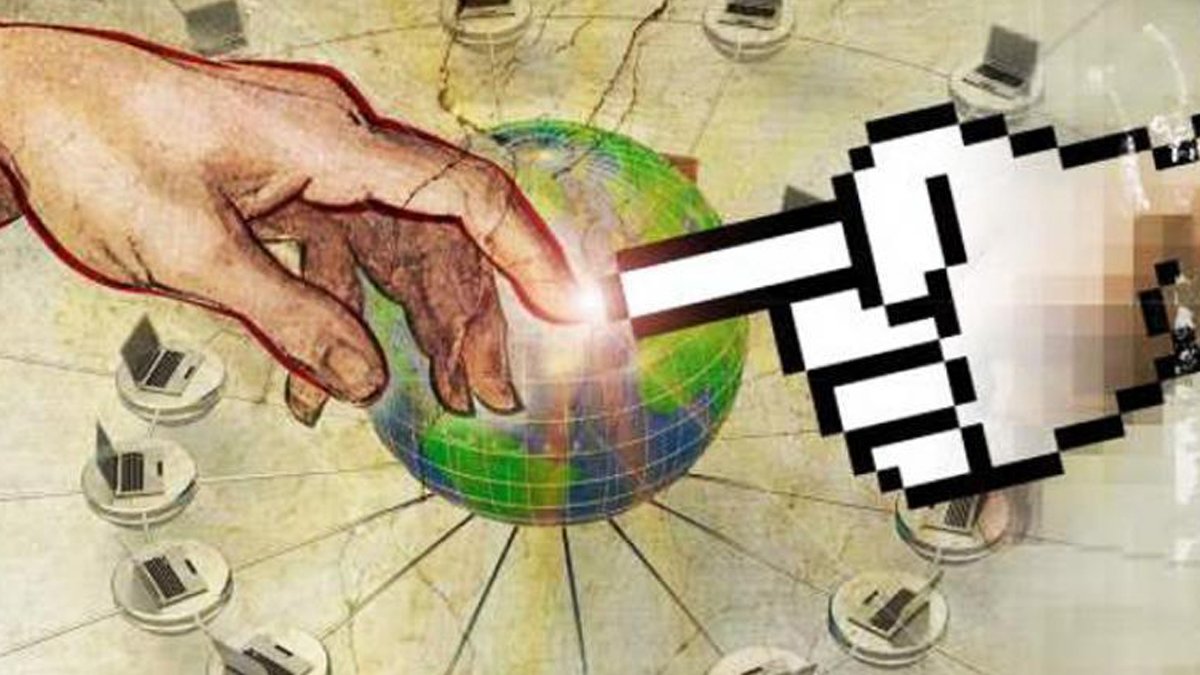

Professor Mizael Macedo Moreira
Refletir sobre a contemporaneidade tem sua dimensão ampla e complexa nos mais distintos níveis possíveis. Desde o advento da cultura cibernética, homens e mulheres imergem-se num universo completamente vinculado aos mais diversos tipos de tecnologias, nítida é a dependência em que as pessoas se encontram acerca do uso dos mais variados aparatos tecnológicos.
No decorrer da história, a humanidade percorreu por caminhos, a qual destinou-se ao rumo da informação. Alvim Toffler frisa nuances entre 3 períodos civilizatórios importantes para a sociedade, ou seja, fala sobre a 1ª onda com as atividades do setor rural – a exploração do setor primário da economia, a 2ª onda com a atividade industrial tradicional – construção do setor secundário da economia e a 3ª onda com as atividades da informática – o setor terciário, por meio dos computadores, das telecomunicações, da robótica e dos microprocessadores).
Vivemos na era da informação e do conhecimento, adaptar-se a este contexto é uma questão de sobrevivência e a cibercultura está presente em nossas vidas como uma forma sociocultural, no sentimento de troca na relações entre sociedade, cultura e as novas tecnologias.
Os espaços eletrônicos virtuais estão sendo popularizados com a utilização da internet e outras tecnologias, o que possibilita uma aproximação entre as pessoas de todo o mundo graças a uma comunicação à distância através de uma rede: a telecomunicação, o que Pierre Lévi chama de conexão planetária, e é o que nos tornam seres globalizados.
Análogo a este pressuposto, analisemos a Série do roteirista Pedro Aguilera, “Onisciente” que se passa numa cidade vigiada constantemente por pequenos “drones”, com a qual registram, controlam e avaliam qualquer e toda ação de qualquer pessoa que esteja dentro da metrópole, por esta circunstância a cidade tem taxas de crimes baixíssimos, pois esta tecnologia identifica qualquer que seja (pequena ou grande) ação criminal, levando a população a viver com tranquilidade e sem medo da criminalização, fica válido perceber que existe tanto o lado bom e o lado ruim da evolução tecnológica em nossas vidas.
A produção brasileira nos mostra, na trama, uma suprema confiança dos homens/mulheres sobre a tecnologia nômade, revelando uma dependência, em outros termos, as pessoas cada vez mais rapidamente se adaptam de tal forma que não se enxergam distantes ou sem as novas tecnologias. Na história percebe um terror social tecnológico por estarem presos a esta onda cibernética, pois estão submetidos a uma vigilância absoluta tirando suas respectivas privacidades.
Nesta senda, fica notório o quanto se assemelha com nossa realidade, este trabalho cinematográfico traz uma mensagem subliminar frente a realidade em que as pessoas estão vivendo, presos aos aparatos tecnológicos (celulares, notebooks, Televisão…), vigilância constante, dependência dos gêneros científicos…, toda esta evolução tecnocientífica vem para facilitar as nossas vidas e assim nos prender, cada vez mais, na relação homem, sociedade e tecnologia.
Na trama a protagonista mostra que mesmo sendo uma tecnologia de última geração, pode haver fragilidade no sistema, o que é algo comum para todos, os “hackers” são prova disso, com isso, se faz necessário uma desconfiança para não termos certeza absoluta daquilo que depositamos toda a nossa confiança.
Portanto, na atmosfera da sociedade cibernética todas as pessoas que não estão familiarizado com as tecnologias são consideradas desatualizadas, mas o que podemos indagar é se adquirimos um vício irreversível sem qualquer forma de cura? Desse modo, os ciberespaços em que ingressamos tem por si seu lado positivo e seu lado negativo em virtude da vida humana, socialmente importante para o homem/mulher contemporâneo.
Mizael Moreira, graduado em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – AGES, pós-graduado, Lato Sensu em Direitos Humanos na Escola pela Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI. Voluntário no Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades (CRDH/UNEB
Cibercultura
Reflexões pertinentes em O Dilema das Redes
O filme é o equivalente didático documental do que Black Mirror é para o campo da ficção


Leonardo Campos
A mensagem veiculada em O Dilema das Redes pode ser apontada por alguns como apocalíptica e exagerada, mas ao passo que o documentário da Netflix avança cada um de seus 89 minutos, ficamos gradativamente estarrecidos com a proximidade dos fatos em relação ao nosso cotidiano de cidadão comum, atingido pela relação entre algoritmos, redes sociais, invasão de privacidade e até projetos de derrocada do que conhecemos por democracia. É assustador contemplar uma produção que aprofunda alguns pontos sobre a relação da humanidade atual com o lado “negativo” da cibercultura, afinal, qualquer pessoa minimamente atenta ao mundo que gravita ao seu redor sabe que os smartphones e seus desdobramentos, isto é, os aplicativos e os serviços oferecidos tem deixado pessoas viciadas, doentes, depressivas e até mesmo impulsionada ao suicídio. Diria com segurança que, salvaguardadas as devidas proporções, O Dilema das Redes é o equivalente didático documental do que Black Mirror é para o campo da ficção.
Vamos aos fatos. Logo na abertura, uma citação de Sófocles. “Nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição”. É o estabelecimento de atmosfera ideal para entendermos o que vem mais adiante. Louvamos a internet e seus processos evolutivos. Para alguns, ficou mais fácil paquerar e quebrar o gelo dos encontros presenciais, tendo neste espaço o compartilhamento de material de apresentação introdutório que ajudou muito tímido e se relacionar com menores palpitações cardiovasculares. Para outros, a comunicação com amigos, colegas e familiares que antigamente penavam com as ligações interurbanas caras e de baixa qualidade, ainda sem a possibilidade de acompanhamento da imagem, em simbiose com a voz em nossa atual era de redes sociais e aplicativos. Eis alguns dos presentes, cobrados com tamanha agressividade e violência para os usuários que nos colocamos diante do “dilema” das redes do título: tais bençãos compensam tantas celeumas? É vantagem adentrar neste terreno pantanoso?
Dirigido por Jeff Orlowski, os depoimentos do documentário com roteiro assinado por Davis Coombe e Vickie Curtis convergem para um sonoro “não”. Interessante que todos os participantes são pessoas com larga experiência na área, cidadãos que assumem as vantagens mencionadas anteriormente e até confessam que ainda estão em processo de desmame de vícios oriundos das redes sociais criticadas. Tem gente que já foi do Google, do Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, etc. São opiniões sempre bem fundamentadas e embasadas em muitas teorias comprovadas cientificamente. Entre um depoimento e outro, temos a inserção de dramatizações, lado menor da produção, mas que também não atrapalha. São atores que encenam uma família em crise, pois a filha adolescente prefere ficar no smartphone ao se alimentar ou ter qualquer interação com seus pais e irmãos. É uma representação didática, importante para que O Dilema das Redes atinja ao máximo de pessoas com um conteúdo acessível e muito urgente, bastante atual por sinal, com comentários sobre fake news, eleições, covid-19 e a pior teoria da contemporaneidade: o terraplanismo, conteúdos disseminados com maior impulso dentro do contexto e das ferramentas criticadas pela produção.
Para quem conhece o livro Dez Argumentos Para Você Deletar Agora as Suas Redes Sociais, de Jaron Lanier, também entrevistado pelo documentário, a sensação que temos é a de conexão entre ambos os conteúdos. Pioneiro na área dos estudos e desenvolvimento de produtos tecnológicos virtuais, Lanier hoje é contrário aos “monstros” que ele próprio participou da criação e em diversos momentos de O Dilema das Redes, ele comenta que há muita ingenuidade das pessoas usuárias de redes sociais, indivíduos que sequer reconhecem os efeitos colaterais dos produtos que consomem. A escrita “manifesto” e mais uma vez, a urgência do assunto, faz parecer que é muito radicalismo, mas não é. Quem vos escreve tem duas experiências que parecem bobas, mas na verdade são bastante abusivas. A primeira foi uma conversa boba em casa próximo dos smartphones aparentemente “desconectados”. Falava-se sobre a necessidade de compra de uma nova geladeira e ao abrir o e-mail horas depois, olha lá a quantidade de refrigeradores ofertados sem ninguém sequer ter digitado nada no computador.
De volta ao livro de Jaron Lanier, também participante do documentário, vamos entender um pouco mais essa conexão: para o autor, evitar as redes sociais é como evitar as drogas. Isso também faz lembrar um depoimento de uma jovem colega ainda na época do Ensino Médio, lá pelos anos 1990. Ela dizia que a tia trabalhava numa fábrica de biscoito recheado. Seu salário ajudava a família, dava suporte, mas uma coisa era certa: não significava que por trabalhar nessa fábrica, as pessoas que ela amava podiam consumir biscoitos do tipo em sua frente. Era “sentença de morte”. Por acompanhar os processos e entender como se davam os mecanismos de produção, a observadora queria poupar o máximo dos organismos humanos ao seu redor. O mesmo ocorre com as redes sociais e seus criadores. Todos os depoentes que possuem filhos dizem que uma das regras é a proibição ou o alto controle desses mecanismos dentro de suas casas, pois como eles eram idealizadores destes projetos, sabiam exatamente como as grandes corporações utilizavam estratégias psicológicas para fisgar os jovens ainda em formação.
A lógica de Jaron Lanier é essa: se antes as pessoas tinham um produto ofertado, a complexidade dos algoritmos da atualidade manipula até mesmo aqueles que acreditam ter a força suficiente para virar o jogo. E dá-lhe compra de seguidores, ansiedade para saber se determinada postagem vai alcançar as curtidas e o engajamento esperado, noites de insônia para pensar no conteúdo a ser postado no dia seguinte e ao longo da semana, dispersão de outras atividades, sedentarismo etc. Perda de livre-arbítrio, inflamação de bullying e rotulação de seres humanos como mercadorias, uso de bots com teorias absurdas, bastante utilizados, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais de 2018 no Brasil, além da falta de empatia de indivíduos em bolhas, transformados em publicidade, mergulhados numa sensação constante de infelicidade e minados do conceito convencional de democracia que tanto se luta e se discute. Sitiados pelas redes que nos pressionam num invólucro sufocante, somos cada vez mais parte de uma civilização reprogramada constantemente, numa velocidade demasiadamente frenética.
Para você, caro leitor, pode não parecer assustador, mas noutra situação, enquanto mandava áudios para uma pessoa via whatsapp, comentávamos sobre fazer fotos no laboratório e focar bastante num microscópio, pois o diálogo era sobre a construção de um perfil no Instagram para uma especialista em Microbiologia. Não é que minutos depois, ao acessar um site de compras e as redes sociais, várias ofertas de microscópios protagonizam a página inicial de acesso? Para quem está acostumado com esse engolimento diante das redes, isso pode parecer bobagem, mas não é, pois a gravidade do caminho que já trilhamos dificilmente possui retorno. Cabe agora a nossa constante vigilância e a busca por amenizar ao máximo os danos provenientes deste processo cultural que também te alija de muitas coisas se você não se permite fazer parte nem que seja como um mero figurante, num processo de alienação dentro de alienação circular.
Aqueles que são fascinados por redes sociais e acham que conseguem driblar os algoritmos para ter seguidores e se consideram um sucesso das redes com certeza detestarão o documentário, pois a produção traça um panorama dos problemas que essas pessoas conhecem muito bem, mas precisam esconder por detrás de uma fachada que eclipsa ansiedade e outros processos de adoecimento. O que podemos observar com o avanço das teses explanadas é a impossibilidade de permitir que usuários driblem, de maneira mais sadia, os embates ardilosos com as inteligências artificiais que engendram tais mecanismos da atual era da virtualidade. São tantas estratégias sorrateiras estudadas por equipes e máquinas que analisam quando estamos doentes, tristes, ansiosos, alegres etc. Hashtags, curtidas e postagens que informam padrões identificados, codificados e transformados em material para promoção de uma cultura destrutiva onde o ser humano parece nunca alcançar satisfação diante de padrões, tipos, regras estabelecidas que não dialogam com o que chamamos de “realidade”.
Prova disso é a “disformia Snapchat”, causada por pessoas que buscam cirurgias plásticas e tratamentos invasivos para acompanhar os filtros e demais recursos ofertados pelas redes sociais. Sem o devido preparo e com tantas ânsias que coadunam com os seus respectivos contextos históricos, temos o surgimento cada vez maior de uma massa de pessoas enfraquecidas por um sistema que não se importa com saúde mental e atender aos princípios éticos quando o lance é monetizar em cima do usuário de rede social. Para engrossar mais o caldo crítico e tornar a tese mais aprofundada, a edição de Davis Coombe insere trechos de reportagens jornalísticas de veículos de comunicação dominantes da atual cultura da mídia televisiva. Somado a isso, temos gráficos e animações muito bem construídos, preocupados em explicar minuciosamente ao espectador que possivelmente é um usuário de rede social, sobre o porque dele ser “um produto” do chamado “capitalismo de vigilância”.
No que tange aos seus aspectos estéticos, a produção não apresenta novidades, mas nem por isso se isenta de ousar nos efeitos visuais da equipe de Matthew Poliquin, integrante do Ingenuity Studios. Nas partes onde não temos os tradicionais depoimentos captados por uma direção de fotografia em plano médio ou geral, os personagens da “encenação” são envolvidos por efeitos que flertam com a ficcionalização dos temas debatidos pelos especialistas. É como uma brincadeira de super-heróis, com o embate entre humanos e as forças do mal, neste caso, as redes sociais, passagens que podem soar como ingênuas para alguns, mas como mencionado, não deturpam o produto final. A condução musical de Mark A. Crawford é intensa, muito próxima aos acordes de um filme de terror, utilizada no documentário de maneira sensacionalista, mas algo que me permite a mea culpa por aqui, tendo em vista a importância do conteúdo debatido e a necessidade de atrair os espectadores por imagem e som. Para depoimentos que dizem sermos “zumbis”, não cobaias das redes, textura musical melhor não há!
Ademais, há propostas de intervenção, tal como qualquer outro documentário didático. Para alguns, não é preciso a dissociação total. Para outros mais radicais, o lance é limar de vez as redes e se permitir não ser manipulado. De todos os depoimentos, um dos mais interessantes foi o da usuária que diz seguir justamente as pessoas que não coadunam com seu ponto de vista e possuem ideias contraditórias e perigosas. Para ela, a estratégia visa conhecer melhor o outro e sair um pouco da fixidez de um discurso cristalizado por uma massa que pensa de maneira retilínea, em tom de ameaça quando qualquer discurso autocrítico se estabelece como possibilidade de traição. Grifo meu, na verdade, pois a fala da entrevistada vai até a parte sobre “conhecer melhor o outro”, no entanto, combinado aos demais depoimentos e numa observação de nossa própria realidade, a interpretação de oferta como algo coeso e coerente. Ah, dentre os participantes, destaco também Triston Harris, ex-funcionário do Google, responsável pelo setor de “persuasão”. Hoje ativista, ele é uma espécie de ponto nevrálgico da produção, muito seguro em sua fala e dono de ganchos rizomáticos que se conectam com os demais entrevistados.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
Cibercultura
Jexi, Um Celular Sem Filtros
Até quem critica o uso alheio do celular são pegas em frenética alimentação desse utensílio, “o novo cigarro”


Professor Leonardo Campos
Criticar é fácil, quero ver é a capacidade de autocontrole dos usuários das inevitáveis tecnologias da contemporaneidade. Sabemos que os smartphones e todo o pacote incluso de aplicativos e outras utilidades deveriam ser elementos para transformar as nossas atividades em missões mais simples e tranquilas, mas em matéria de seres humanos, as coisas geralmente acabam de maneira imprevisível e descontrolada. Até mesmo as pessoas que criticam o uso alheio do celular, reflexo do que incomoda nelas mesmas, são pegas em frenética alimentação desse utensílio que de acordo com publicações científicas recentes, é “o novo cigarro”. Cientes disso, a dupla Jon Lucas e Scott Moore decidiu investir numa trama que flertasse com a nossa relação diante da tecnologia, numa espécie de paródia do complexo Ela, de Spike Jonze. O resultado é favorável ao filme na primeira parte, mas do meio para o final, Jexi – Um Celular Sem Filtros não consegue se manter dentro da fórmula comédia + humor + diálogos inteligentes = humor reflexivo, numa aposta de início promissor e final mais do mesmo.
Tudo isso, no entanto, não anula algumas experiências diante da comédia. O seu grande problema é não dar conta do humor em paralelo ao potencial do argumento, desperdiçado diante do excesso de piadas e situações vexatórias, desnecessárias ao meu ver. Também responsáveis pelo roteiro, a dupla parece ter dividido o filme em duas grandes partes, de estrutura basicamente igual, sendo a primeira empolgante e a segunda mais óbvia. Tratado como paródia do melancólico filme de Spike Jonze, a trama troca o drama profundo do personagem de Joaquin Phoenix pelo histrionismo de Adam Devine no papel de Phil, protagonista da história, igualmente solitário, mas mergulhado num contexto diferente. Ele é mais um desses jovens de uma geração que não sabe sequer ir ao banheiro sem o celular nas mãos. Frustrado, mas sem fazer algum esforço para sair do marasmo que é a sua vida, ele passa os seus dias num ambiente de trabalho hostil, no exercício de um trabalho pouco útil, além de ficar diante da TV toda noite vendo séries e pedindo comida por aplicativos.
Nada contra o modo de vida, mas é uma existência que parece orbitar em torno da solidão e da falta de perspectiva. Com as facilidades dos instrumentos tecnológicos ao seu redor, Phil se afunda cada vez mais na melancolia e na sensação de não conhecer as coisas que o circunda. Tudo muda quando ele precisa adquirir um novo smartphone, pois o seu anterior teve perda total por conta de um pequeno acidente. É um momento de novas descobertas, inclusive de Jexi (voz de Rose Byrne), a “Siri” ou “Alexa”, como queira, inteligência artificial de seu aparelho. Ela vai adentrar de maneira arrebatadora em sua vida, cheia de dicas e sugestões comportamentais, mas depois se tornará humana e perigosa, uma nova preocupação constante na vida de Phil, indo do papel de consultora para namoradinha infernal, insatisfeita com as mudanças que o rapaz começa a exercer em sua vida: sair com colegas, pedalar, paquerar uma garota e outras atividades que vão além do uso de celular.
O interesse amoroso de Phil é Cate (Amanda Shipp), aquela garota aparentemente boa demais para um bobalhão, clichê básico das comédias românticas que ainda funciona muito bem. Kai (Michael Peña) é o seu chefe, homem grosseiro, de comportamento oscilante e colocado como espécie de complemento cômico (algo como alívio cômico, mas neste caso não é possível, pois o personagem principal em si já ri da própria condição). Exagerado, é dono daquelas cenas que nos espreme na poltrona do cinema, numa busca por conforto diante do constrangimento alheio. Em suma, excesso puro, necessidade forçada dos produtores de provocar o riso por meio de cenas ridículas. Elaine (Charlyne Yi) e Craig (Ron Funches) são os colegas de trabalho que se aproximarão de Phil, pessoas que trabalham ao seu lado há quase três anos, mas que sequer sabem o nome um do outro. O motivo? Simples: estão ocupados demais diante de seus celulares. Denice (Wanda Sykes), numa dosagem nada bizarra como a do chefe, é a vendedora da loja que permite ao protagonista a ascensão de algumas falas explicativas. Os demais são apenas personagens passageiros, apenas responsáveis pelo avanço de algumas situações.
Sobre o nosso protagonista, basta dizer que vai passar por muitas situações constrangedoras, noutros momentos, de redenção. Adam Devine, mesmo que bobalhão demais em algumas passagens, acaba exalando o carisma ideal para permitir que a segunda parte não seja exatamente descartável. Ele é o que podemos chamar de “fofo” ou “carismático”. Guiado por seus diretores para fazer a plateia rir, não economiza caras e bocas tortas, falas escatológicas, situações sobre bunda, pênis, etc. Não estraga, como já dito, mas desequilibra a história que nos faz lembrar, em alguns momentos, das reflexões de Stephen Hawking sobre os perigos da tecnologia quando comandada por uma má gestão. Um dos idealizadores das maravilhas da contemporaneidade não pregava a tecnologia de maneira barata e vulgar, mas o seu uso de maneira funcional. Em Jexi – Um Celular Sem Filtros, o descontrole da inteligência artificial é alegoria da nossa falta de habilidade com as inovações de um campo que parece não encontrar limites e pretende evoluir para etapas sem precedentes ao longo de nossa história.
A direção de fotografia de Ben Kutchins é bastante eficiente na captura dos movimentos e enquadramentos que ressaltam o comportamento humano diante da suposta antagonista da história, a tecnologia, colocada em paralelo aos hábitos mais saudáveis de outros personagens, como contraponto da vida nada saudável do protagonista. Se observado, o seu interesse amoroso é uma ciclista, tanto na vida profissional quanto na dimensão pessoal. Não foi uma escolha aleatória, tenha certeza. Kutchins, juntamente com a sua equipe, passeia pelas rus íngremes de São Francisco e capta as aventuras do protagonista antes, durante e depois do estabelecimento da duvidosa relação com Jexi. Ainda na seara estética, o design de produção de Marcia Hinds trabalha de maneira eficiente na imersão do público nos espaços de circulação dos personagens, com os cenários bem adornados pela direção de arte, setores responsáveis pela nossa imersão nas dimensões sociais e psicológicas de Phil e seus coadjuvantes.
A trilha sonora assinada pela dupla formada por Philip White e Christopher Lennertz não escapa da leveza óbvia esperada, com simbiose durante a intrusão de canções da cultura pop, ilustradora de alguns momentos dos personagens em suas ações. Nos desdobramentos dos fatos, lá pela metade de seus 84 minutos, Jexi – Um Celular Sem Filtros não consegue ir além do superficial e comprovar que uma comédia não precisa ser apenas entretenimento para nossas necessárias descargas emocionais diárias. Ainda assim, o filme traz uma série de comportamentos que expõe tópicos para quem acredita que o cinema também pode ser uma arte transformadora e crítica. São ilações que nós, espectadores, precisamos fazer, cabe ressaltar. Os figurantes, mesmo que secundários, nos ajudam na compreensão de São Francisco como microcosmo de todas as sociedades que hoje estão conectadas pelas tecnologias mais recentes.
As pessoas caminham, se alimentam, conversam, dentre tantas outras coisas, com o celular praticamente no rosto, inebriadas pela necessidade de conexão, algo que ultrapassa todos os limites do que é “necessário” para se tornar uma “obsessão”, isto é, um caso clínico. São problemas que se agravam cada dia mais, pois em nosso atual cenário, a inteligência artificial é capaz de captar as nossas emoções e gestos, registrar o que dizemos em torno de aparelhos eletrônicos e enviar nossas informações para bancos de dados que coordenam tudo o que vai aparecer diante de nossa tela enquanto oferta, seja durante o acesso ao e-mail que queremos acreditar ser algo sigiloso e só nosso, seja no acesso das redes sociais ou numa compra eletrônica. Aqui, Jexi ocupa a função de representante deste cenário caótico. A sua perseguição ao protagonista é alegoria da nossa relação com a tecnologia, algo que tentamos fugir, mas que está sempre ao nosso redor, como num cerco sufocante e fechado. De volta ao filme, em suma, temos uma produção que nos provoca, mas tal como alguns covardes, não fica para o debate que ele mesmo empreendeu, preferindo manter-se na zona de conforto.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
Cibercultura
Catfish


Professor Leonardo Campos
A relação dos seres humanos com o ciberespaço é tema de um amplo feixe de produções documentais, algumas que exaltam as possibilidades oriundas das tecnologias na era da informação contemporânea e outras, a refletir os temores sociais oriundos desta fase da humanidade sem precedentes, período das incertezas e da falta de equilíbrio de pessoas emocionalmente instáveis, expostas aos perigos ofertados pelas figuras que teclam do outro lado da tela, seja de um celular ou computador. Em Catfish, documentário lançado em 2010, dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman, também responsáveis pelo roteiro, acompanhamos a trajetória do fotógrafo Nev Schulman, numa narrativa que parte dos primeiros papos on-line com a pequena Abbey Pierce, talento infantil com apenas oito anos de idade.
Ela lhe envia quadros, supostamente por intermédio dos responsáveis, conversa com Schulman por telefone, por e-mail e redes sociais, em contatos exclusivos na internet. Por meio da garota, ele conhece Megan Pierce, a sedutora irmã mais velha, além de ter acesso aos demais membros da família que logo adiante, vai lhe despertar o interesse de conhecer pessoalmente. Será a fase que nos questionaremos sobre com quem de fato conversamos do outro lado da linha ou da citada tela. A pessoa que se desnuda, com detalhes da intimidade, é realmente quem diz ser? Como ter certeza? Essas são algumas das questões que em 2010, ainda não eram ultrapassadas ou talvez batidas. Aliás, dez anos depois, Catfish aborda tópicos caros ao âmbito dos relacionamentos humanos em nossa sociedade.
Surge, então, a oportunidade de conhecer a menina e a sua família. Ao passo que a comunicação vai se tornando mais vaga, Schulman começa a investigar. As esfuziantes conversas de antes tornam-se superficiais demais. Há uma aparente fuga quando a palavra-chave “encontro presencial” é mencionada. Como espectadores, acompanharemos essa jornada em busca da realidade por detrás destes supostos personagens investigados por Schulman, ele e os companheiros de viagem, igualmente em estado de representação, mas dentro da dinâmica documental sem ferir aspectos estruturais deste tipo de narrativa. É uma saga de breves 87 minutos sem nenhum cuidado com a estética. A abordagem está mesmo preocupada com a sua temática polêmica e contemporânea.
Ele adentra com mais vigor nessa na vida de Abbey Pierce e começa a esmiuçar pormenores. Parte rumo à residência destas pessoas. Ele quer conferir o que está por detrás de tanto mistério. Mapeamentos virtuais e uso de imagens de satélites conferem ao visual as metáforas necessárias para o tema debatido pelo roteiro. Há discussões, risos, até mesmo desentendimento, tudo em prol da encenação. Não estamos longe da proposta documental, mas é fato que os personagens representam em cena, pois como bem sabemos, as fronteiras deste gênero audiovisual já estão mais dissolvidas há eras, principalmente agora, na atual fase da tecnologia e da comunicação humana. A história que se revela em sua chegada à fazenda é assustadora, mas não tem nada de absurda. É bastante crível em no contemporâneo. É com muita insistência que as verdades são reveladas e conheceremos a trama por detrás de perfis falsos, vida sofrida, encenação nas redes e outros tópicos abordados antes do desfecho.
Eles, juntamente com o usuário de internet radiografado, isto é, Nev Schulman, assumem a direção de fotografia. Andrew Zuchero traz alguns efeitos visuais para a animação, mas nada que empolgue. O som de Mark Mothersbaugh também não se faz atraente, tendo como função básica acompanhar as imagens sem vigor sonoro ou qualquer diálogo com o contexto narrativo. Não são aspectos que atrapalham a experiência, apenas detalhes estéticos que comprometem o documentário enquanto estrutura audiovisual. Ao conferir Catfish além da proposta de entretenimento, a reflexão nos serve de espelho porque até mesmo as pessoas mais cuidadosas as vezes se deixam levar pela emoção e se expõem de tal forma sem sequer perceber, pois a exploração de nossos dados pessoais e a maneira como nos relacionamos se tornou algo horizontalizado no bojo dos comportamentos sociais, tendo raríssimas exceções.
Catfish, ao pé da letra, é uma pessoa que cria perfis falsos em redes sociais para enganar pessoas. É uma gíria para pessoas enganadas por outras na internet. Os quinze perfis que tornaram Schulman “o catfish” em questão não chegam a ser maldosos ou interessados em aplicar golpes malignos, mas são a projeção de tudo de ruim que há na rede. A nossa personagem é uma pessoa com um perfil de vida que utiliza a internet para projetar ao público uma coisa que não é nem de longe. É o que acontece muitas vezes nas redes mais badaladas, tais como Instagram, por exemplo. São sinais dos nossos tempos, a zona ideal para a criação de simulacros, falsas verdades e outros problemas que tornam tudo confuso e complexo até mesmo de se teorizar. O ciberespaço como um espaço dúbio, maravilho e mortal, a depender do ponto de vista. É o que aprendemos ao final do didático e esteticamente estéril Catfish.
Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.
Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.
Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,
focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,
“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.
-

 Culturahá 2 dias
Culturahá 2 diasGoverno da Bahia inicia ciclo de feiras literárias
-

 Culturahá 1 dia
Culturahá 1 diaFunceb e BTCA oferecem diversos cursos no Mês da Dança
-

 Agriculturahá 2 dias
Agriculturahá 2 diasAgricultura familiar avança na Bahia a partir de investimentos do Governo do Estado
-

 Serviçoshá 2 dias
Serviçoshá 2 diasMetrô Salvador bate recorde de passageiros no primeiro trimestre de 2025