Pedra de Toque
As pegadas de Caim
Essa é a história de dois irmãos e a complexidade de afetos e contradições que geralmente envolve essas relações


Marcus Borgón
Ia para o terceiro dia de ausência de meus pais. Com dores, minha mãe disse que voltaria com meu irmãozinho. Eu olhava para o berço dele montado, onde antes havia uma cômoda com minhas roupas. Com três anos de idade, o intervalo de setenta e duas horas parece uma pequena eternidade. Tia Benedita resolveu fazer um pudim de leite, para distrair a agonia que se apossava de mim com qualquer barulho de motor que vagamente lembrasse o do TL esverdeado de meu pai. Desde muito cedo descobriram que eu era facilmente fisgado pela boca, algo que se repetiria por toda a minha vida.
Minha mãe chegou quase se arrastando, e nos braços de meu pai aquele pacotinho que puseram ao meu lado no sofá. Os olhos de minha tia se encheram de lágrimas, “coitadinho, quase que não vinha pro mundo”. O rosto levemente afundado e a cabecinha toda arroxeada. Eu não entendia muito bem as conversas que diziam que no final a intenção era apenas salvar a mãe.
Aquele distanciamento de três dias se estenderia por anos. E com isso a minha curiosidade sobre aquele pequenino ser se convertia, dia a dia, em ciúme e revolta. Ninguém mais me notava ou achava graça das minhas estrepolias. Ele foi crescendo, e invadindo cada vez mais o meu espaço, mexendo nos meus brinquedos, andando no meu encalço. Ainda deu para ter os cabelos lisos, o que me deixava transido de inveja. Os meus, rebeldes e encaracolados, tinham que ser molhados constantemente e penteados para o lado para que se aprumassem.
Ele me seguia o tempo inteiro, e eu inventava brincadeiras perigosas que ele não conseguia imitar. E então se debulhava em lágrimas, e minha mãe intercedia em seu favor. Mas, ele dava trabalho para comer e chorava sem qualquer motivo, invariavelmente de madrugada. “O outro era tão quietinho, e esse abre o berreiro a troco de nada”. Enfim, eu gozava de uma pequena vingança que ele mesmo se encarregara de pôr em curso.
Meu pai praticamente não me enxergava mais, apenas o “cotozinho”, que era quase uma miniatura dele. Uma admiração narcísica, mostrando as fotos de criança para as visitas, “a mesma carinha do caçula”. Aos três anos ele também perderia o posto para a nossa irmã, que se aninhara no peito paterno de uma forma a não permitir qualquer mutualismo ou concorrência. Ele ainda contava com o afeto de nossa mãe, enquanto eu, acostumado ao desamparo de ambos, esgarçava ainda mais as relações com minha inaptidão às demandas práticas da vida. Ele desde pequeno se mostrava metódico e organizado. Um projetinho de administrador. Ao contrário de mim, que carregava a pecha de bagunceiro e relapso. Para a madre superiora, estas eram qualidades inconcebíveis a alguém com nossa condição. “Pobre relaxado deveria nascer morto”.
Eu ainda levaria tempo para conhecer Mário Quintana e seu “Da preguiça como método de trabalho”, mas era também a preguiça o meu combustível para não perder de ano na escola. Ter que repetir tudo de novo me apavorava. E por razões obscuras, dessas que o universo carrega em suas entranhas, meu irmão tinha um desempenho escolar bem abaixo do meu. Eu imagino o nó na cabeça de nossa mãe para sustentar sua tese sobre as pessoas que se davam bem na vida.
De vez em quando, ele resolvia pegar as fotos da família, e, olhando-as numa sequência aleatória, empacava que havia sido abandonado na praia. E chorava. Ele ali, na sala de casa, reclamava que o deixaram lá sozinho. E numa das fotos em que aparece sorrindo, cismava que na verdade estava desesperado, sem ninguém em volta. Eu perguntava quem havia tirado a foto, e ele dizia que certamente algum estranho, com pena.
Um dia ele me chamou a atenção para uma música que tocava no rádio e dizia “venenosa êêêê”, e passamos a prestar atenção naquele estilo empolgante e de letras divertidas que invadiu o dial. Nos falava muito mais que os sambinhas de Vinícius e de Chico que a mãe ouvia à exaustão nas manhãs de domingo.
Com o nascimento de nossa irmã, e seu boletim cada vez mais pintado de vermelho, ele foi perdendo um pouco de moral em casa, e se aproximou mais de mim. Na hora de dormir, me pedia para contar o histórico do Brasil nas copas recentes. No dia seguinte, eu tinha de repetir, pois ele não lembrava de mais nada após o gol de Éder contra a União Soviética. E assim, passamos os anos a compartilhar os jogos, os discos, as revistas, as camisas dos Ramones, as agruras, e a combalida esperança num futuro melhor. Ele saiu de casa antes de mim, e o nosso quarto diminuiu, ao invés de ficar mais espaçoso. Parecia cada vez mais apertado, quase me expulsando dali. Eu descobri que quem me acolhia não era a casa.
A distância dos dias e os pleitos de sobrevivência nos tornaram uma lembrança pálida daquilo que fomos, como a fotografia em que estamos no sofá, ele recém chegado da maternidade, a cabecinha em meu colo. O seu olhar curioso e o meu sorriso largo diziam muito mais do que a palavra fraternidade é capaz de sugerir. E é esse passado em comum (o desatino não cometido, e em vez da fuga, a reconciliação) que afiança meu sentimento. Apesar de toda a polidez e das inexplicáveis mesuras com que nos tratamos hoje em dia. Na semana que vem ele faz aniversário, e eu me recordo que prestes a completar um aninho, ele só balbuciava coisas desconexas e ininteligíveis. Quando, de repente, uma palavra fluiu de forma cristalina: maninho.
Marcus Borgón colaborou com a revista de cultura
e literatura Verbo21. Publicou textos em jornais,
sites especializados em literatura, e coletâneas de contos.
É autor da novela ‘O Pênalti Perdido’ (P55 edições, 2016).
Pedra de Toque
Que fim levou o Robin? *
A minha precocidade antecipava apenas o lado obscuro da vida adulta


Marcus Borgón – Escritor
Os Excêntricos Tenembaums é um filme de Wes Anderson que retrata uma família cujos filhos foram pequenos prodígios, mas na fase adulta, tornaram-se pessoas problemáticas. Guardadas todas as proporções, quando assisti, lembrei da minha infância. Não que eu tivesse sido uma criança promissora. Longe disso. Mas alguns comentários de meus pais e de pessoas próximas mostravam que eu aparentava ser um menino diferente dos demais. Nem sempre para melhor.
Gabriel Garcia Márquez costumava falar de uma passagem tida como a primeira centelha de sua genialidade. O avô gostava de levá-lo para acompanhar as longas e silenciosas partidas de xadrez que disputava com um amigo belga. Pouco tempo depois, o belga se suicidou, e o pequeno Gabo, durante o velório disse “o belga não voltará a jogar xadrez”. A frase repercutiu entre os presentes, e nunca mais deixou de ser assunto nas rodas familiares.
Rolava uma reuniãozinha informal lá em casa. Um rapaz tocava violão, e todos acompanhavam, não muito afinados, aqueles clássicos do cancioneiro popular. Gonzaguinha, Chico, Caetano, Milton. Do quarto eu escutava tudo. Crianças não participavam daqueles convescotes da maturidade. Lá pelas tantas, minha mãe nos chamou para apresentar-nos às visitas. O violeiro parecia com o Kledir, da dupla de irmãos gaúchos. Usava uns anéis estranhos e um brinco na orelha esquerda. Ele me olhou e perguntou se eu queria ouvir um Topo Gigio, Balão Mágico, ou… “quero Bésame Mucho”. Todos se espantaram. Meus pais se entreolharam curiosos. Um moleque de oito anos pedindo um bolerão mexicano. Aquela sentença não tinha o mesmo efeito dramático (e literário) da proferida pelo fundador de Macondo. Mas, também ecoou pela vizinhaça por um bom tempo.
Uma coleguinha ficou adoentada uns dias, e me pediu o caderno com as tarefas que havia perdido. No dia seguinte, ela me falou que a mãe dela queria conversar comigo. Eu havia deixado uma das tarefas em branco, e a professora, nesses casos, para chamar a atenção dos pais, escrevia em vermelho, com letras graúdas: POR QUE NÃO FEZ O DEVER??? Assim mesmo, com várias interrogações. Minha mãe não olhava meu caderno, só o boletim. O que havia indignado a mãe de Janaína, foi a minha resposta: “porque eu não quis”. Ela achou muito insolente, e disse que ela mesma se encarregaria de devolver o caderno para minha mãe. Eu fui direto para o quarto, para começar a cumprir o meu castigo. De lá, ouvi a risada de minha mãe. Ela achou espirituoso e divertido. E disse que minhas notas não demonstravam o suposto desleixo com os estudos. Este caderno andou pelo Polo Petroquímico, salões de beleza, curso de cerâmica, associação de moradores, encontro dos Alcoólicos Anônimos, até chegar na direção da escola e me acarretar uma suspensão de dois dias. E no restante do ano, ter de suportar o terror que o olhar de ódio da professora ensejava.
A professora de Estudos Sociais, abaixo das questões da prova, deixava uma mensagem de boa sorte. Um dia, na entrega das notas, ela pediu licença para ler o que eu tinha deixado como resposta ao seu venturoso cumprimento. Esta prova fez quase o mesmo itinerário do caderno de tarefas. As pessoas comentavam quando eu passava “esse menino que escreveu ‘obrigado, mas não precisei’”. A resposta era irreverente, mas também bastante ingênua. Para os mais velhos, pareceu carregada de soberba. Outros colegas resolveram imitá-la, e com isso as provas subiram alguns graus de dificuldade.
No citado filme, o patriarca vivido por Gene Hackman resolve voltar para casa a pretexto de reconquistar a família. Na verdade, ele havia sido despejado do hotel onde morou por mais de duas décadas. Meu pai também foi despejado de um hotelzinho na rua do Paraíso, e voltou a morar conosco. Não precisou de desculpas afetivas. Sua presença instalava um clima de tensão constante na casa. Naquela época, a única coisa extraordinária, era o medo que a gente sentia.
Há quem compare os personagens do filme com personagens dos contos de Salinger. Em seu romance mais famoso, o jovem narrador-personagem tem um desempenho pífio num sofisticado internato para rapazes. A história se desenrola no intervalo de poucos dias, entre o fim do ano letivo e o retorno para casa. Suas ruminações refletem um espírito de inadequação profunda e de contestação ao status quo. Ao se deparar com os diversos conflitos inerentes à vida, ele assume uma postura pessimista e questionadora. Os adultos são vistos como impostores e hipócritas. E é fácil reconhecer esse comportamento como um dos efeitos do amadurecimento.
Visto de longe, o menino que fora reconhecido por feitos incomuns (embora não fossem em nada geniais) não teve nenhuma crise proveniente de uma decepção geral com os caminhos que seguiu ─ nem sempre por escolha própria. Não faltou vontade de colocar a culpa em traumas e íncubos oriundos de uma primeira formação muito tumultuada.
Uma colega de trabalho me falou orgulhosa do filho de cinco anos que havia feito um trocadilho com o nome da escola, Costa Melo. Tudo na criança tem cheiro de novidade. A descoberta do mundo, o desenvolvimento da linguagem, as perguntas desconcertantes (como se chama o pai de Deus?). Millôr Fernandes dizia que “todo homem nasce original e morre plágio”.
Eu mesmo não fazia a menor ideia de como era aquele bolero açucarado composto em espanhol. Pesquei o nome numa conversa entre um casal de brasileiros e um casal argentino, na praia.
Um coleguinha me induziu a responder de modo sarcástico ao questionamento da professora, com a alegação de que ela não olhava os deveres mais antigos. Ela deixava o recado para que os pais resolvessem o problema.
Numa feira de livros que acontecia na pracinha do bairro, abri um título a esmo. Naquela página estava escrito: “Cumpro esse dever, ou essa sorte, sem grande esforço nem notável desinteligência”. Aquilo me deixou desassossegado. A ponto de desdenhar da sorte, e deixar isso registrado numa prova da escola. A minha precocidade antecipava apenas o lado obscuro da vida adulta.
*nome de uma banda de technopop surgida no início dos anos 90.
Marcus Borgón é escritor, colaborou com a revista de cultura
e literatura Verbo21. Publicou textos em jornais,
sites especializados em literatura, e coletâneas de contos.
É autor da novela ‘O Pênalti Perdido’ (P55 edições, 2016).
Pedra de Toque
Manual de pequenos estragos
Com treze anos, a droga mais nociva que eu e meus amigos consumíamos era o Baré Cola, no balcão do depósito de bebidas


Marcus Borgón – Escritor
Havia na juventude do meu tempo uma tendência gregária. Viver em busca de entrosamento, de ser acolhido pela turma. Alguns códigos podiam te afastar ou te aproximar do grupo. Às vezes, uma peça de vestuário, alguma gíria. Percebia-se um certo pânico geral de se sentir cafona ou excluído.
Na minha adolescência, por exemplo, a familiaridade com alguns livros te colocava no pico da curva modal. Mesmo que os temas abordados fossem alheios ao seu cotidiano. Como os relatos daquela menina tragada pelas drogas e pelo submundo caótico de uma Berlim cinzenta e hostil. Com treze anos, a droga mais nociva que eu e meus amigos consumíamos era o Baré Cola, no balcão do depósito de bebidas, após o futebol no campinho. Eu já havia banido da cabeça o engodo de que estranhos ofereciam bala na porta das escolas. Mas ainda mantinha um discreto medo dos ciganos. O mundo imaginário era mais intrigante do que o real.
Pouco depois, as conversas passaram a girar em torno das memórias de um rapaz que mergulhou de cabeça contra as pedras. Embora ele contasse histórias sobre jovens comuns, tudo aquilo me parecia remoto e inatingível. Como qualquer enredo de realismo fantástico do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pirlimpimpim, e nada acontecia. Uma amiga me falou que o livro deixava uma mensagem de “perseverança”. Eu desconhecia esta palavra. Não sabia o que era perseverar. Mas descobri que era exatamente o que eu fazia na escola, ano após ano. O jovem Mário passava muito tempo olhando para o teto branco do hospital, completamente imóvel. Eu sofria de um outro imobilismo – exceto na hora de jogar bola – e costumava também passar muito tempo olhando para o teto do quarto. Quase sempre ao som de alguma banda de rock nacional. Ultraje, Paralamas. Camisa de Vênus. Aliás, a liberdade sexual daqueles personagens me fazia pensar como era ainda mais interessante o universo em que gravitavam.
O anseio por uma vida nababesca levou um pastor de ovelhas – de outro célebre livro da época – a vislumbrar um tesouro sob as pirâmides do Egito. Um lugar mágico e bonito, bem distante da minha vida comezinha, como de costume. Eu achei sensacional a descoberta de que a riqueza tão procurada por ele, mundo afora, sempre esteve ali onde morava. Uma parábola banal, mas que atingiu em cheio o peito daquele garoto de rasa ilustração. Por pouco tempo, é verdade. A minha realidade logo me mostraria que era impossível existir alguma fortuna escondida naquele conjunto com mais de trezentos prédios amontoados. Pela tevê, ouvíamos falar de um baú que continha a felicidade. Um carnê de prestações quase infinitas, com o qual se comprava mercadorias a juros infames.
Com o passar do tempo – e de outros títulos pelas minhas mãos – estas narrativas perderam espaço em minha memória afetiva, ao contrário de músicas e filmes daquele período de formação. O receio de sucumbir ao exílio social, me impulsionou para a leitura. Hoje, o papel se inverteu: vou em busca do isolamento para poder me dedicar aos livros. E a leitura retroalimenta o desejo de permanecer no eremitério.
Estes livros, apesar de parecerem mera evocação do passado e não figurarem no meu panteão literário, traziam em seu bojo achados proféticos. Eles me apontaram caminhos e acontecimentos futuros, sem que eu percebesse de imediato. Como se tivessem lido a minha mão: a prescrição continuada, e cada vez maior, de drogas; a prostituição de alguns valores em troca da sobrevivência; o sentimento de que os anos pretéritos continuarão mais felizes que os vindouros; e a permanente escavação interior à procura de alguma preciosidade.
Marcus Borgón é escritor, colaborou com a revista de cultura
e literatura Verbo21. Publicou textos em jornais,
sites especializados em literatura, e coletâneas de contos.
É autor da novela ‘O Pênalti Perdido’ (P55 edições, 2016).
Pedra de Toque
Notas da sarjeta
Na crônica desta terça, Marcus Borgón relembra suas aventuras atrás de emprego, ou de qualquer ocupação


Marcus Borgón – Escritor
Eu era uma espécie de assombração. Quando saía do quarto causava horror e aversão às pessoas que estavam na sala, ou nos demais ambientes da casa. Não era pelo inesperado, minha aparição sempre coincidia com o horário das refeições. A sarjeta te deixa com aspecto de monstro.
Nas manhãs de domingo, minha mãe entrava no quarto, e jogava o caderno de empregos em cima de mim, com alguns anúncios circulados. Toda segunda, eu ia bater em alguma porta. Certa feita, fui parar num escritório de um prédio decadente do Centro. Me deixaram aguardando por uma hora na recepção. O telefone tocava a cada minuto. A secretária não passava nenhuma informação sobre a vaga de emprego, apenas agendava a entrevista. Ela errava a pronúncia de algumas palavras, e parecia se arrumar no limite de suas possibilidades. Dava a impressão de se segurar àquele emprego com todas as suas forças. Principalmente, com a força do ódio. Um rapaz de rosto quadrado e pele oleosa, usando um terno meio desgastado, perguntou sobre minhas ambições, e se eu me considerava uma pessoa tímida. No final, revelou que era para vender seguro de vida. A empresa acabara de inaugurar um plano para pessoas de baixa renda. “Seu bairro é um ótimo lugar pra você começar”. Não pediram minha carteira de trabalho, eu ganharia comissão por venda. E havia uma meta. Se fosse alcançada, a comissão seria integral. Se não, pagariam uma pequena fração equivalente ao número de seguros vendidos.
Descobri que meus vizinhos se dividiam basicamente em três grupos:
1) os que se julgavam imortais;
2) os que não tinham tempo para pensar na morte;
3) os que carregavam a certeza de já terem morrido.
Não voltei ao escritório nem para devolver o material.
*
Certo domingo, fui acordado com a frase “agora você sai dessa inércia”. A vaga era para recepcionista num hotel da rua Ruy Barbosa. Minha mãe disse que o gerente era amigo dela. Bastava falar em seu nome, e eu estaria contratado. Ao chegar, procurei o Sr. Lourenço, mas ele não se encontrava no local. “Você veio atrás da vaga de emprego?” Mal confirmei, e o rapaz da recepção jogou um trambolho na minha frente. Uma máquina de escrever arcaica, talvez a mesma usada por Jorge Amado para redigir O país do carnaval. Eu não fiz curso de datilografia, mas catava milho com destreza. As letras não apareciam. Era preciso enfiar o dedo com violência. Eu tinha acabado de preencher – com muito custo – meu nome completo, quando Sr. Lourenço se aproximou para saber o que eu queria falar com ele. Minha saudosa genitora tinha a mania de achar que gozava de enorme prestígio junto às pessoas. Eu havia me esquecido disso, e só lembrei quando vi que Sr. Lourenço não se recordava dela de jeito nenhum. Joguei a toalha, e reconheci a vitória daquele dragão metálico cheio de presas alfabéticas. Saí de fininho, levando a ficha e uma copiosa vergonha comigo.
*
Desta vez, eram vinte vagas. Meu amigo Jailton também se animou. Chegamos antes das oito, e já havia uma fila imensa. Escola de idiomas. Os mauricinhos da Pituba estranharam aquela aglomeração em sua rua. Um deles disse: “pelas caras, devem estar distribuindo cestas básicas”. Eu não passava fome, não sei as outras pessoas ali. Mas também era raro o dia em que eu enchia a barriga. Ficamos sabendo que entravam de quatro em quatro na sala, e os próprios concorrentes se entrevistavam mutuamente. Combinei com Jailton de sentarmos um de frente para o outro. Ensaiamos perguntas e respostas. Passamos o texto várias vezes. Fizemos muito bem nosso papel. Parecíamos acadêmicos num congresso importante. Saímos de lá com a certeza de que havíamos impressionado o pessoal da seleção. Nunca fomos chamados.
Marcus Borgón é escritor, colaborou com a revista de cultura
e literatura Verbo21. Publicou textos em jornais,
sites especializados em literatura, e coletâneas de contos.
É autor da novela ‘O Pênalti Perdido’ (P55 edições, 2016).
-
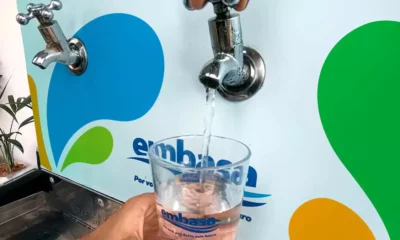
 São João 2025há 3 dias
São João 2025há 3 diasFestejos do interior da Bahia terão ilhas de hidratação gratuita
-

 Agronegóciohá 3 dias
Agronegóciohá 3 diasBrasil se declara país livre da gripe aviária
-

 São João 2025há 2 dias
São João 2025há 2 diasPúblico prestigia shows da primeira noite no Parque de Exposições
-

 Meio Ambientehá 2 dias
Meio Ambientehá 2 diasInverno na Bahia terá mais frio e chuvas no Leste, aponta Inema




























